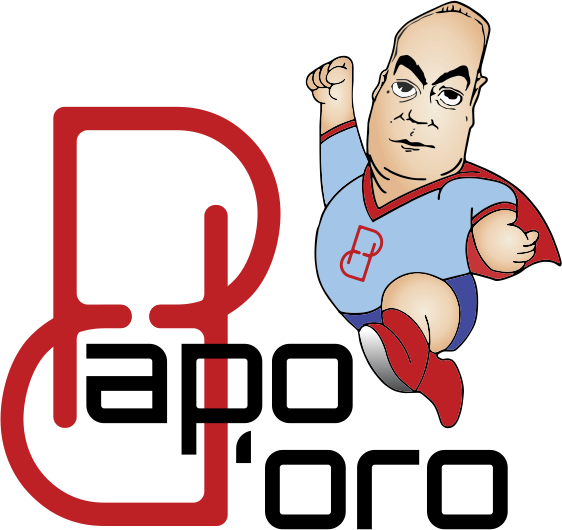A culpa não é um afeto neutro. Ela é produzida, distribuída e administrada. Como todo dispositivo eficaz de poder, opera melhor quando parece natural. No caso das mulheres, a culpa não surge como resposta a um erro, mas como condição prévia da existência. Antes de qualquer ação, já há culpa. Antes de qualquer fala, já há desculpa.
A mulher pede desculpa não porque falhou, mas porque ocupa um lugar estruturalmente culpável.
Simone de Beauvoir não falava apenas de uma alteridade abstrata ao afirmar que a mulher é constituída como “Outro”. Esse estatuto implica uma assimetria moral: o sujeito age, o Outro responde. O sujeito erra, o Outro repara. O sujeito descarrega, o Outro absorve. A culpa, nesse sistema, não acompanha o ato, mas o gênero.
Por isso, a pergunta que organiza a experiência feminina raramente é “o que ele fez?”, mas “o que eu fiz para que isso acontecesse?”. Trata-se de uma inversão radical da lógica da responsabilidade, tão naturalizada que passa despercebida até mesmo pelas próprias mulheres.
Carol Gilligan descreveu a socialização feminina como orientada por uma ética do cuidado. O que sua leitura liberal não leva às últimas consequências é que essa ética, sob o patriarcado, não é uma escolha moral, mas uma coerção afetiva. O cuidado não é exercido: é exigido. E aquilo que não pode ser cuidado — frustração masculina, falha, violência, incompetência emocional — retorna sob a forma de culpa feminina.
A mulher aprende cedo: se algo desanda, ela não apenas deve consertar — deve se perguntar por que não antecipou.
Já os homens são socializados para outro regime psíquico. Não para a elaboração da culpa, mas para sua expulsão. A psicanálise nomeia isso como projeção, mas o termo técnico não deve suavizar sua violência política. Projeção, aqui, não é apenas mecanismo de defesa individual; é prática social legitimada.
O homem não metaboliza a culpa: ele a desloca.
Não a simboliza: ele a terceiriza.
Não a carrega: ele a deposita.
E há corpos historicamente disponíveis para esse depósito.
Freud descreveu a projeção como defesa do ego contra conteúdos intoleráveis. O que Freud não tematiza é por que certos sujeitos podem se defender projetando, enquanto outros são treinados para introjetar. Essa diferença não é psíquica: é política.
O patriarcado cria homens que não sabem falhar sem acusar e mulheres que não sabem existir sem se responsabilizar.
Quando um homem fracassa, a falha raramente permanece nele. Ela ganha narrativa, contexto, causa externa. Alguém provocou. Alguém exigiu demais. Alguém não compreendeu. E esse “alguém” tem gênero. A mulher torna-se o lugar onde o erro masculino se justifica.
Silvia Federici demonstra que o trabalho reprodutivo feminino não se limita à manutenção da vida material, mas inclui a gestão da subjetividade alheia. As mulheres não apenas cozinham, limpam ou cuidam: elas amortecem colapsos egóicos. Funcionam como contenção simbólica para aquilo que o homem não suporta reconhecer em si.
A culpa masculina, então, não desaparece — ela muda de endereço.
Esse deslocamento tem consequências profundas. Judith Butler nos ensina que a repetição produz realidade. A mulher que continuamente assume a culpa passa a se constituir como culpada. Não como sensação passageira, mas como identidade. Ela não se pergunta se errou; ela parte do pressuposto de que errou. Vive em estado de vigilância moral permanente.
Isso não é sensibilidade.
Não é empatia.
É disciplina.
A culpa feminina é um instrumento de governo. Ela regula comportamentos, silencia denúncias, neutraliza a raiva legítima. Uma mulher ocupada em se culpar não acusa. Uma mulher que se pergunta demais não rompe. Uma mulher culpada demais não devolve.
Por isso o discurso da “mulher forte” é tão funcional. Ele permite que tudo continue igual sob a aparência de elogio. A mulher forte aguenta. Compreende. Elabora. Perdoa. A força, aqui, não é potência — é resignação sofisticada. É a forma contemporânea de exigir silêncio com linguagem terapêutica.
Mas não há virtude alguma em carregar culpas alheias.
Há apenas esgotamento psíquico e autoaniquilação lenta.
Recusar a culpa indevida não é imaturidade emocional, como gostam de dizer. É recusa política. É interromper a circulação da projeção. É negar-se a funcionar como lixeira afetiva de um sistema que protege homens da própria responsabilidade.
Devolver a culpa é um gesto violento apenas para quem sempre contou com a absolvição automática.
Não foi você.
Você não errou.
E pedir desculpa, nesses termos, não é ética — é submissão internalizada.
Nomear isso não é exagero.
É diagnóstico.
E todo diagnóstico estrutural parece agressivo para um sistema que depende do adoecimento silencioso das mulheres para continuar operando.