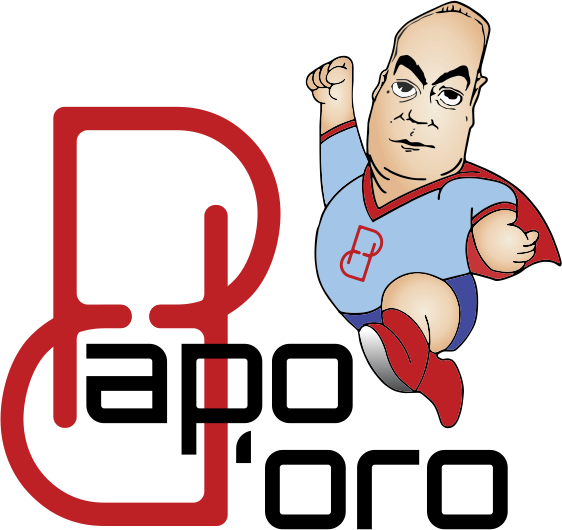Em 1958, a Holanda descobriu uma imensa reserva de gás natural no campo de Groningen, ao norte do país. A novidade parecia uma bênção: aumentaram as exportações, entraram divisas e a economia cresceu rapidamente. Porém, o resultado desse crescimento acabou por prejudicar a indústria holandesa, que começou a perder força e enfrentou um processo de desindustrialização precoce.
O fenômeno recebeu, anos depois, o nome de “Doença Holandesa”, expressão cunhada pela revista The Economist em 1977. O termo descreve um paradoxo econômico: quando um país passa a depender fortemente da exportação de um único recurso natural, ocorre uma valorização excessiva da moeda local. Essa valorização torna outros setores exportadores, especialmente o industrial, menos competitivos no mercado internacional.
No caso holandês, a bonança do gás natural provocou uma mudança estrutural: o setor manufatureiro encolheu e o país tornou-se mais dependente das receitas provenientes do recurso energético.
No Brasil, durante o ciclo de valorização das commodities nos anos 2000, o país viveu um período de forte crescimento impulsionado pelas exportações de minério de ferro, soja e petróleo. Entre 2004 e 2011, as commodities chegaram a representar quase 70% das exportações brasileiras, enquanto a participação da indústria de transformação no PIB caiu de 17% para cerca de 11%.
Esse movimento revelou um processo de desindustrialização negativa, diferente daquele observado em países desenvolvidos. Nas economias centrais, como Estados Unidos, Alemanha e Japão, a redução relativa da indústria ocorreu após décadas de crescimento industrial intenso, quando esses países já haviam alcançado altos níveis de renda, produtividade e tecnologia. A desindustrialização, nesses casos, foi “natural”, resultado da transição para economias baseadas em serviços sofisticados e inovação tecnológica.
No caso brasileiro, porém, a desindustrialização tem caráter prematuro. O país começou a perder participação industrial sem ter completado seu processo de modernização produtiva, sem consolidar setores de alta tecnologia e sem elevar significativamente a renda média da população.
Essa trajetória é preocupante porque reduz a capacidade do país de produzir e exportar bens com alto conteúdo tecnológico e valor agregado. Além disso, limita a geração de empregos qualificados e o crescimento da produtividade.
Um setor industrial forte é fundamental para o desenvolvimento sustentável de qualquer economia moderna. A indústria exerce um papel estratégico porque gera encadeamentos produtivos, estimulando diversos outros setores, como comércio, transporte, energia, tecnologia e serviços especializados.
Além disso, é na indústria que ocorre a maior difusão de inovações tecnológicas, essencial para o aumento da produtividade. Países com base industrial robusta investem mais em pesquisa e desenvolvimento, formam mão de obra qualificada e aumentam sua competitividade global.
A indústria também desempenha um papel social relevante: oferece empregos de melhor qualidade e renda mais elevada, contribuindo para a redução das desigualdades e o fortalecimento do mercado interno.
Por fim, uma indústria sólida favorece o equilíbrio externo, ao ampliar a capacidade de exportar produtos de maior valor agregado, melhorando a balança comercial e reduzindo a vulnerabilidade cambial.