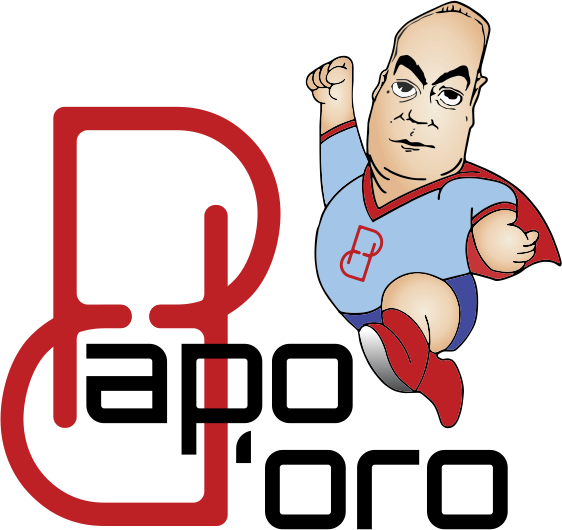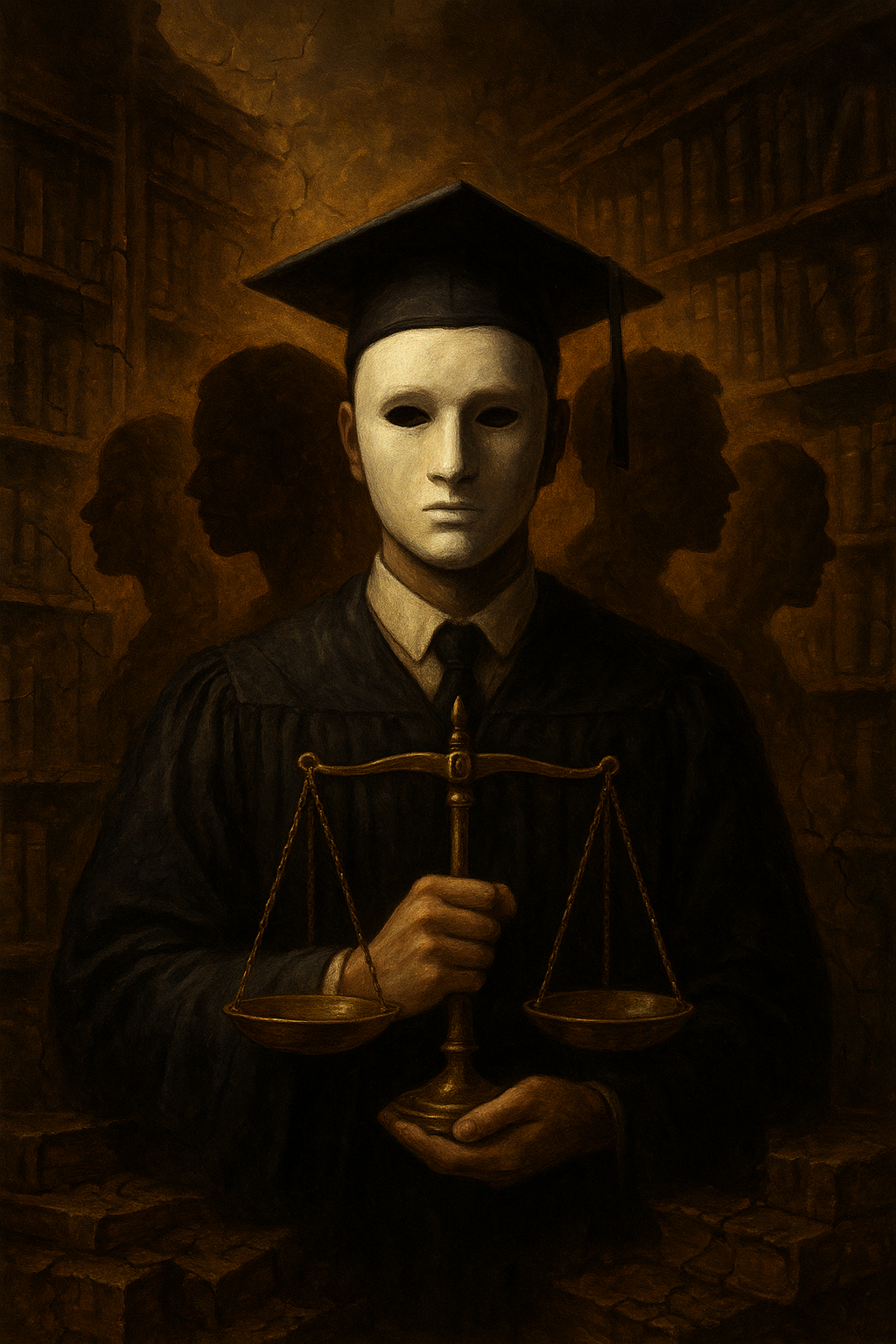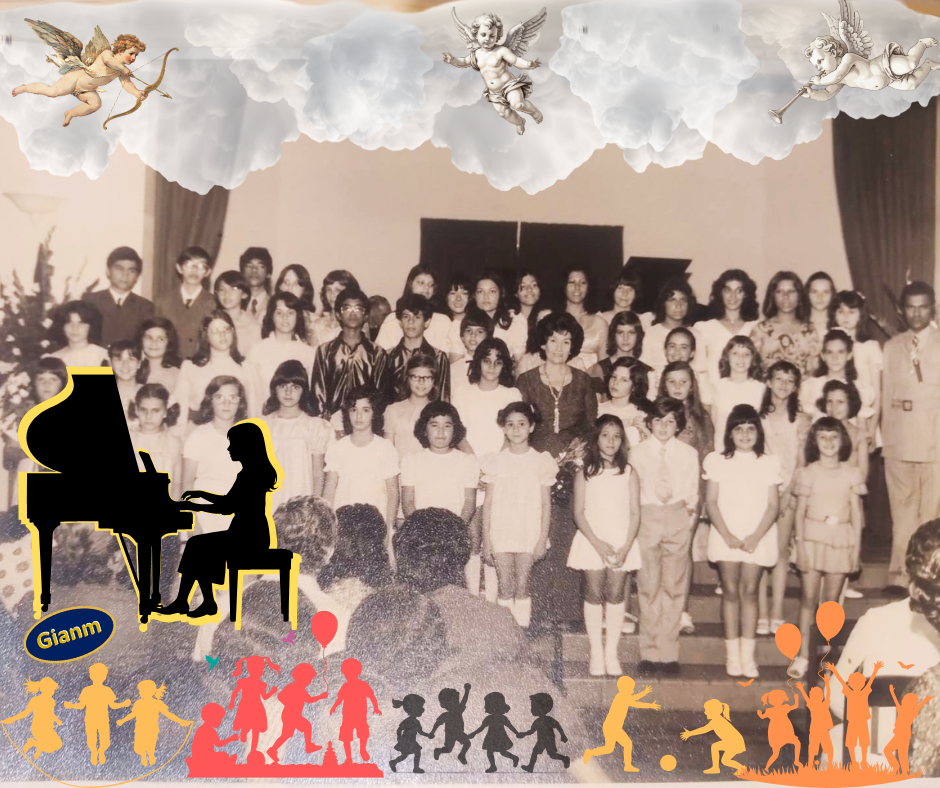Introdução
O mito da neutralidade acadêmica é, talvez, um dos mais persistentes pilares da modernidade ocidental. Ele atravessa a história da ciência e das humanidades como se fosse uma espécie de mandamento ético e epistemológico: o pesquisador deve despir-se de suas crenças, valores, afetos e contextos para produzir conhecimento universal, válido em qualquer tempo e espaço. A ideia é sedutora. Quem não desejaria confiar que o conhecimento científico se erige sobre uma base sólida e imune a paixões ou interesses? Contudo, é precisamente essa sedução que oculta sua face mais perigosa.
A neutralidade acadêmica não é uma condição ontológica, mas uma ficção histórica, nascida em um tempo em que a ciência se erguia como instrumento de dominação e disciplinamento. Ao proclamar-se neutra, a ciência apagava as marcas de sua própria inscrição histórica e social, convertendo-se em uma tecnologia de poder. A neutralidade, portanto, não elimina a política do conhecimento; antes, a mascara, fazendo com que decisões políticas, éticas e econômicas apareçam como fatos inevitáveis, naturais e desinteressados.
Como advertiu Michel Foucault em A Arqueologia do Saber (1969), todo discurso científico emerge de condições históricas de possibilidade, atravessado por regimes de verdade que delimitam o que pode ser dito, pensado e validado. O suposto caráter “universal” da ciência não passa de um produto de tais regimes, que impõem exclusões sistemáticas: saberes considerados inferiores, irracionais ou “não científicos” são relegados à invisibilidade ou à marginalização.
Esse problema não é apenas teórico, mas material. Sob o pretexto da neutralidade, a ciência validou a escravidão, legitimou o racismo científico, justificou o colonialismo e naturalizou desigualdades de gênero. O corpo humano foi mensurado, classificado e hierarquizado em nome de uma objetividade que se dizia neutra, mas que servia diretamente a interesses políticos e econômicos. O que se chama neutralidade é, na verdade, um mecanismo de poder, tão mais eficiente quanto mais invisível.
Este artigo pretende tensionar essa ficção da neutralidade acadêmica, demonstrando como ela atua na manutenção de estruturas de dominação e exclusão. Para tanto, será necessário revisitar a genealogia da neutralidade científica, analisar suas críticas mais consistentes — sobretudo as vindas do feminismo e da decolonialidade —, e refletir sobre sua permanência no cenário contemporâneo. Por fim, será preciso propor horizontes alternativos que superem o mito da neutralidade, reconhecendo a parcialidade e a localização de todo conhecimento como condição de rigor e responsabilidade ética.
Genealogia da Neutralidade: Ciência, Método e Poder
O ideal de neutralidade nasceu junto com a modernidade científica. Francis Bacon, no início do século XVII, afirmava que o conhecimento deveria libertar-se das ilusões individuais, das paixões e da tradição para assentar-se sobre o método indutivo. René Descartes, em Discurso do Método (1637), sustentava que a clareza e a evidência eram garantias universais da verdade. Já Auguste Comte, no século XIX, consolidou a ideia de que as ciências sociais deveriam espelhar o rigor das ciências naturais, tornando-se igualmente neutras e objetivas.
Essa trajetória filosófica não é desinteressada. A modernidade europeia se construiu simultaneamente como projeto de racionalidade científica e de expansão colonial. O saber neutro era, também, saber imperial: a cartografia que “descrevia” o Novo Mundo, a antropologia nascente que classificava povos como primitivos, a medicina que experimentava em corpos colonizados. A neutralidade era, desde o início, um gesto de poder.
Michel Foucault (1969) demonstrou que não existe discurso de conhecimento que não seja atravessado por práticas de poder. A objetividade científica não é uma verdade pura, mas uma configuração histórica de enunciados e exclusões. O saber médico do século XIX, por exemplo, definia o “normal” e o “patológico”, delimitando os corpos saudáveis e os doentes, ao mesmo tempo em que reforçava políticas de segregação social.
Thomas Kuhn (1962), em sua obra seminal A Estrutura das Revoluções Científicas, mostrou que a ciência não progride de forma linear, acumulando verdades universais. Pelo contrário, o avanço científico ocorre em rupturas paradigmáticas, em que uma comunidade abandona um paradigma por outro, cada qual marcado por valores, crenças e interesses. A neutralidade, nesse contexto, não passa de um mito. As escolhas entre paradigmas não são decididas apenas por evidências, mas por relações de poder dentro da comunidade científica.
Exemplos históricos reforçam essa tese. No século XIX, a antropologia física e a craniometria pretendiam medir e hierarquizar raças humanas. Esses estudos eram apresentados como neutros, baseados em mensurações objetivas de crânios e ossos. Contudo, serviam diretamente para justificar o colonialismo europeu e a escravidão, sustentando a ficção da superioridade racial branca. A neutralidade científica, nesse caso, foi o manto que recobriu a violência epistêmica e política.
O Mito da Objetividade e a Crítica Feminista e Decolonial
A crítica feminista à ciência foi um dos movimentos mais contundentes contra o mito da neutralidade. Donna Haraway, em seu célebre artigo Situated Knowledges (1988), argumentou que todo conhecimento é situado: não existe olhar de lugar nenhum. Pretender-se neutro é apenas ocultar os privilégios do sujeito que enuncia. O homem branco, ocidental, heterossexual, ao proclamar-se universal, converte sua experiência particular em norma.
Sandra Harding, em Whose Science? Whose Knowledge? (1991), ampliou essa crítica ao propor o conceito de “objetividade forte”. Segundo Harding, a objetividade real não está na pretensão de neutralidade, mas na explicitação das condições sociais e históricas de produção do conhecimento. Apenas quando se reconhece a parcialidade é que se pode produzir ciência mais rigorosa.
Evelyn Fox Keller, em Reflections on Gender and Science (1985), mostrou como a linguagem científica é permeada por metáforas masculinas, que naturalizam a passividade da natureza a ser dominada pelo sujeito masculino. Assim, o discurso da neutralidade reforça hierarquias de gênero, tornando invisível a contribuição das mulheres na ciência.
Do ponto de vista decolonial, Boaventura de Sousa Santos (2014) introduz o conceito de epistemicídio: o apagamento sistemático de saberes não ocidentais em nome da ciência neutra. Saberes indígenas, africanos e populares foram classificados como superstição ou ignorância, legitimando a violência colonial. Walter Mignolo, em The Darker Side of Western Modernity (2011), propõe a desobediência epistêmica como forma de romper com essa ficção da universalidade.
Essas críticas convergem em uma mesma direção: a neutralidade não é apenas falsa, mas nociva. Ela perpetua exclusões e legitima violências, apresentando interesses específicos como universais.
A Universidade e a Política da Neutralidade
Na universidade contemporânea, a neutralidade continua a operar como instrumento de poder. Professores e pesquisadores são instados a “separar ciência e política”, como se tal separação fosse possível. Paulo Freire (1968), em Pedagogia do Oprimido, já afirmava que não existe educação neutra: ou ela reproduz a opressão ou contribui para a libertação. O mesmo se aplica à ciência.
Achille Mbembe, em Necropolítica (2003), mostra como decisões técnicas e aparentemente neutras podem, na realidade, definir quem vive e quem morre. Políticas de saúde pública, critérios de financiamento científico, decisões sobre quais áreas merecem investimento: tudo isso se apresenta como neutro, mas opera como política da vida e da morte.
Exemplos abundam: a prioridade dada a pesquisas militares em detrimento de investigações em saúde pública; o financiamento massivo para biotecnologia, enquanto pesquisas em ciências humanas são desvalorizadas; a censura de livros e temas considerados “ideológicos”. Sob a máscara da neutralidade, o poder acadêmico reforça desigualdades e silencia vozes críticas.
Para Além do Mito: Conhecimento Situado e Escrita Indócil
Recusar a neutralidade não significa abraçar o relativismo vulgar, mas adotar outra concepção de rigor. Donna Haraway propõe a objetividade situada como horizonte ético: reconhecer de onde falamos, para quem falamos e a quem servimos. Esse gesto implica responsabilização, em vez de invisibilidade.
Walter Mignolo insiste que apenas por meio da desobediência epistêmica podemos romper com o monopólio da ciência ocidental. Isso não implica destruir a ciência, mas pluralizá-la, abrindo espaço para epistemologias outras.
Roland Barthes, em O Prazer do Texto (1973), lembra que a escrita pode ser indócil, capaz de perturbar regimes de leitura. O ensaio, gênero híbrido entre ciência e literatura, torna-se um espaço privilegiado para essa insurgência. Escrever contra o mito da neutralidade é também escrever contra o estilo burocrático que apaga o sujeito. É assumir a escrita como gesto político, recusando o conforto da ficção universal.
O Desmascaramento da Neutralidade
A neutralidade acadêmica é uma ficção útil, mas perigosa. Útil porque assegura ao pesquisador a sensação de autoridade, perigosa porque legitima exclusões, apagamentos e violências. Reconhecer que todo saber é situado, parcial e histórico não enfraquece a ciência, mas a fortalece, tornando-a mais ética e responsável.
O perigo da neutralidade está em sua pretensão de inocência. Ela se apresenta como ausência de poder, quando é, na verdade, uma das formas mais eficazes de exercê-lo. Desmascarar essa ficção é tarefa urgente. É preciso assumir a posição, a parcialidade e a responsabilidade de cada ato de enunciação. A ciência, como a educação, nunca é neutra: ou contribui para a manutenção das hierarquias ou se engaja na sua superação.
Questionar o mito da neutralidade não é apenas exercício teórico, mas gesto insurgente. É abrir espaço para epistemologias plurais, para vozes silenciadas, para a indisciplina da escrita. É, em última instância, devolver ao conhecimento sua dimensão ética e política, rompendo o pacto de silêncio que sustentou a ficção da objetividade.